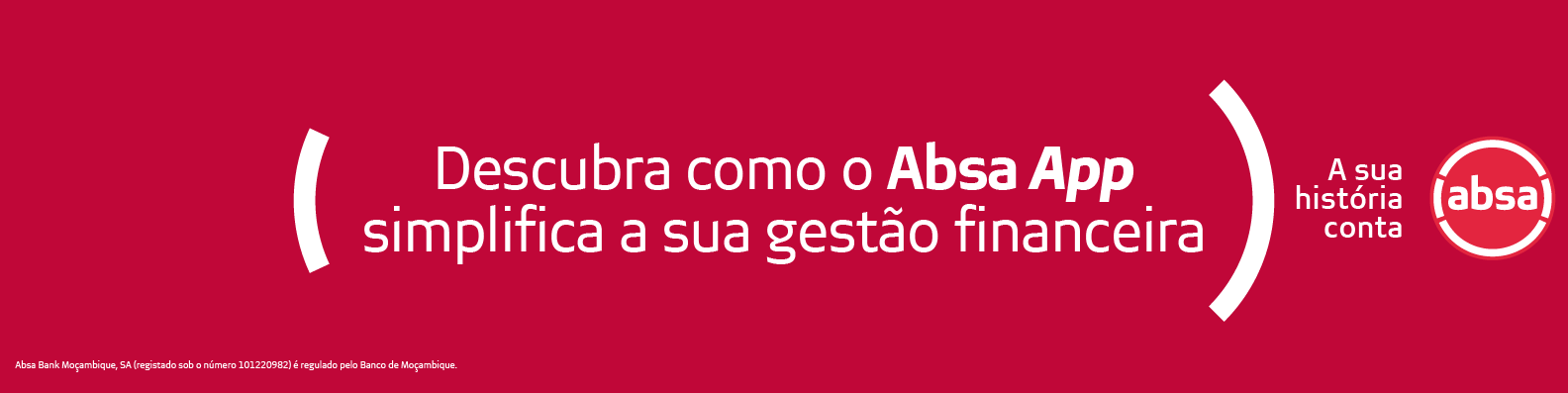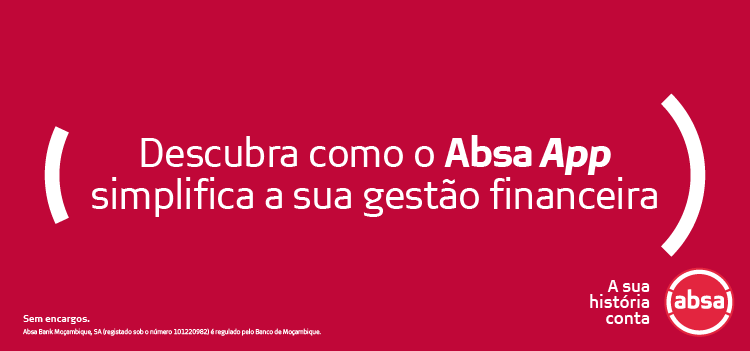Por John Kanumbo
Era cerca das 10h da manhã de ontem dia 21 de outubro de 2025, quando o silêncio da estrada entre via Awasse e Macomia foi quebrado por rajadas de metralhadora. Sim. Metralhadora. O som seco que lembra o período de “Operação Nó Górdio”, comandada pelo general Kaúlza de Arriaga. É daí que vem o nome “Causa de Arriaga” que muitos no povo transformaram em “Causa Arriaga” em dos anos 68 a 70 — tempos em que o país aprendeu a morrer em nome da liberdade. Hoje o mesmo mata-se em nome de nada. A ganância. O sol queimou o chão, as folhas nem se mexem.
No troço Xitaxi–Chitunda, distrito de Muidumbe, um grupo de canino da cidade chamado UIR fazia o que sempre faz: escoltar viaturas civis, proteger o que ainda resta da vida. Mas naquele dia, a missão terminou em fogo. Ou talvez dessa vez não fossem para os manifestantes das cidades — aqueles a quem costumam lançar gás lacrimogéneo, bala de borracha e até de verdadeira. Dessa vez, a bala era outra. E é do inimigo. A emboscada foi rápida, feroz e precisa. Quatro agentes caninos da elite perderam a vida. A viatura policial ardeu — símbolo triste de um Estado que também arde, que parece queimar-se por dentro. Mais do que corpos, o que se perdeu ali foi mais um pedaço da soberania moçambicana, mais um grito abafado de um país que teima em não se ouvir.
Aquele troço — Awasse, Chitunda, Xitaxi — é uma linha invisível entre o medo e o abandono. Uma fronteira dentro do próprio país. Uma terra que parece fora do mapa de Moçambique, como na altura Muxungué ou Nhamapadza a Gorongosa noutra época de Matsangaisse, quando também se dizia: “lá era perigoso”. E agora, troço entre Awasse a Muidumbe próximo (a Rwarwa antigamente) e Macomia tornou-se sinónimo de dor. Cada nome de aldeia é um epitáfio.
Mas o que dói mais não são só os tiros — é o silêncio que se segue. O Estado, ausente. As famílias, sozinhas. Os inimigos, agora com a audácia de escolher a hora e o lugar do ataque. Quando um país já não controla as suas estradas, já não protege os seus filhos, e já não responde às suas próprias feridas — então é preciso dizer: estamos a perder o que nos fazia nação.
O ataque de hoje não é apenas uma tragédia militar. É um diagnóstico político: Moçambique está ferido na alma. E a ferida chama-se Cabo Delgado. Ali, o sangue continua a ser derramado em nome de um poder que não se vê, de uma fé distorcida, e de uma guerra que parece eterna. E a pergunta que não quer calar é simples, mas profunda: onde está o Estado? Ou por outra, o que é, afinal, um Estado soberano, se homens armados entram numa vila, discursam numa mesquita e saem ilesos, e ainda invade uma estrada e faz emboscada contra a própria segurança do Estado, sem que nenhuma força nacional reaja? Um Estado não é uma bandeira. É presença. É autoridade. É soberania. Quando insurgentes entram, atacam, pregam e saem ilesos, o que resta é apenas o mapa — sem Estado, sem governo, sem rosto.
Enquanto os corpos dos quatro agentes da UIR ainda arrefecem na terra quente de Muidumbe, enquanto o cheiro a fumo e pólvora ainda paira no ar de Awasse e Xitaxi, em Maputo e nas capitais provinciais há festas dos camaradas. Há discursos, há champanhe, há palmas. Os mesmos dirigentes que juraram defender a pátria continuam a dançar nas praças públicas, sorrindo, posando para fotografias, enquanto os filhos do povo são enterrados em silêncio.
A impunidade em Moçambique já não é um defeito do sistema — é o sistema. E o povo, anestesiado pelo costume do sofrimento, aplaude. Partilha as imagens dos políticos nas redes sociais, comenta com emojis, escreve “força, excelência”, vamos trabalhar!” marcha para às recepções do partidárias e “Deus no comando”. Mas Deus, lá em Cabo Delgado, parece estar cansado de ouvir os gritos. E, como se o sangue não bastasse, surge o fantasma dos 33,6 milhões de dólares — o dinheiro do fundo soberano, supostamente criado para o futuro das nossas prenhas, evaporado antes mesmo de existir. Um dinheiro sem rosto, sem rastro, sem vergonha. Enquanto uns escondem-se atrás de decretos e siglas, outros escondem-se em covas rasas nas matas de Muidumbe e Macomia. É o retrato cruel do país: Os vivos dançam, os mortos calam. Os culpados promovem-se, os pobres fogem. E os jornalistas que tentam contar a verdade são silenciados — ou esquecidos.
Como chegámos até aqui? Por onde começou este colapso da consciência nacional? Chegámos até aqui porque confundimos governo com glória. Porque confundimos partido com pátria. Porque achámos que soberania era um hino cantado e não um povo protegido. Contamos que a democracia é eficaz e é a via viável para derrubar o sistema. Um Estado soberano não é aquele que mostra bandeiras nas festas — é aquele que garante que ninguém entra armado numa vila, dá um discurso numa mesquita e sai vivo e ileso. O que aconteceu em Mocímboa da Praia há poucos dias — insurgentes disfarçados de militares ruandeses a pregar, a filmar e a sair sem resistência — é a prova de que a soberania já não mora aqui.
E a pergunta é inevitável, e deve ser feita com coragem: O que é, afinal, um Estado soberano? Se o povo está com medo, se o território está ocupado, se o governo está ausente e se o dinheiro do povo desaparece — o que resta? A soberania perdeu-se não no campo de batalha, mas na consciência. Quando o poder se tornou vaidade. Quando o sofrimento se tornou estatística. Quando a dor deixou de incomodar. Hoje, Moçambique é uma fotografia de contrastes: Nas redes sociais, dirigentes a sorrir. Nas matas de Cabo Delgado, corpos a tombar. Nas contas públicas, milhões que somem. Nas aldeias, crianças que crescem sem escola e sem futuro. E, no meio disso tudo, o povo continua a aplaudir — porque já se habituou à dor, e o hábito é o veneno mais lento que existe.
O ataque mais uma vez do dia 21, é mais do que um acto de guerra. É o espelho de um país que já não se reconhece. E se continuarmos calados, um dia não muito distante, já não haverá país para reconhecer. Enquanto isso, em Pemba, Maputo e no mundo, continuam as reuniões, as promessas, os comunicados. As igrejas escreveram cartilhas para conveniência, pois é habitual não apontar o pecador somente o pecado. Mas nas matas de Muidumbe, os nomes dos mortos não cabem nos discursos. Cabem nas covas rasas, nas lágrimas das viúvas, e no medo dos que continuam vivos. Cabo Delgado está a ferro e fogo. Não. Cabo Delgado está a ferro e silêncio. O fogo é o que ainda grita, o ferro é o que cala.
E termino com três perguntas: O que é pior para a nação — a bala do inimigo ou o silêncio do Governo? O medo do povo ou a arrogância de quem o governa? E quem chora pelos mortos de Cabo Delgado? E finalmente, quem leva flores aos túmulos anónimos dos soldados e civis? Ou será que a dor do Norte já não conta para a República? Um país morre quando o Estado perde o sentido do dever e o povo perde o direito de perguntar.