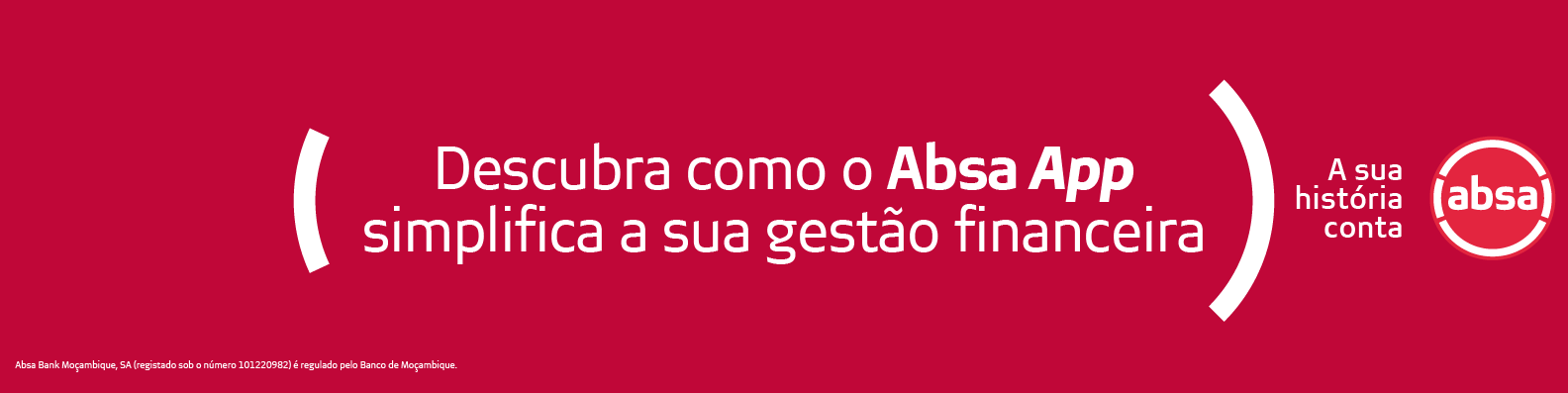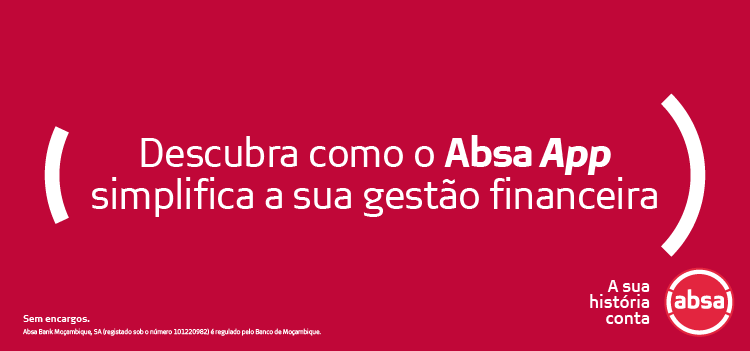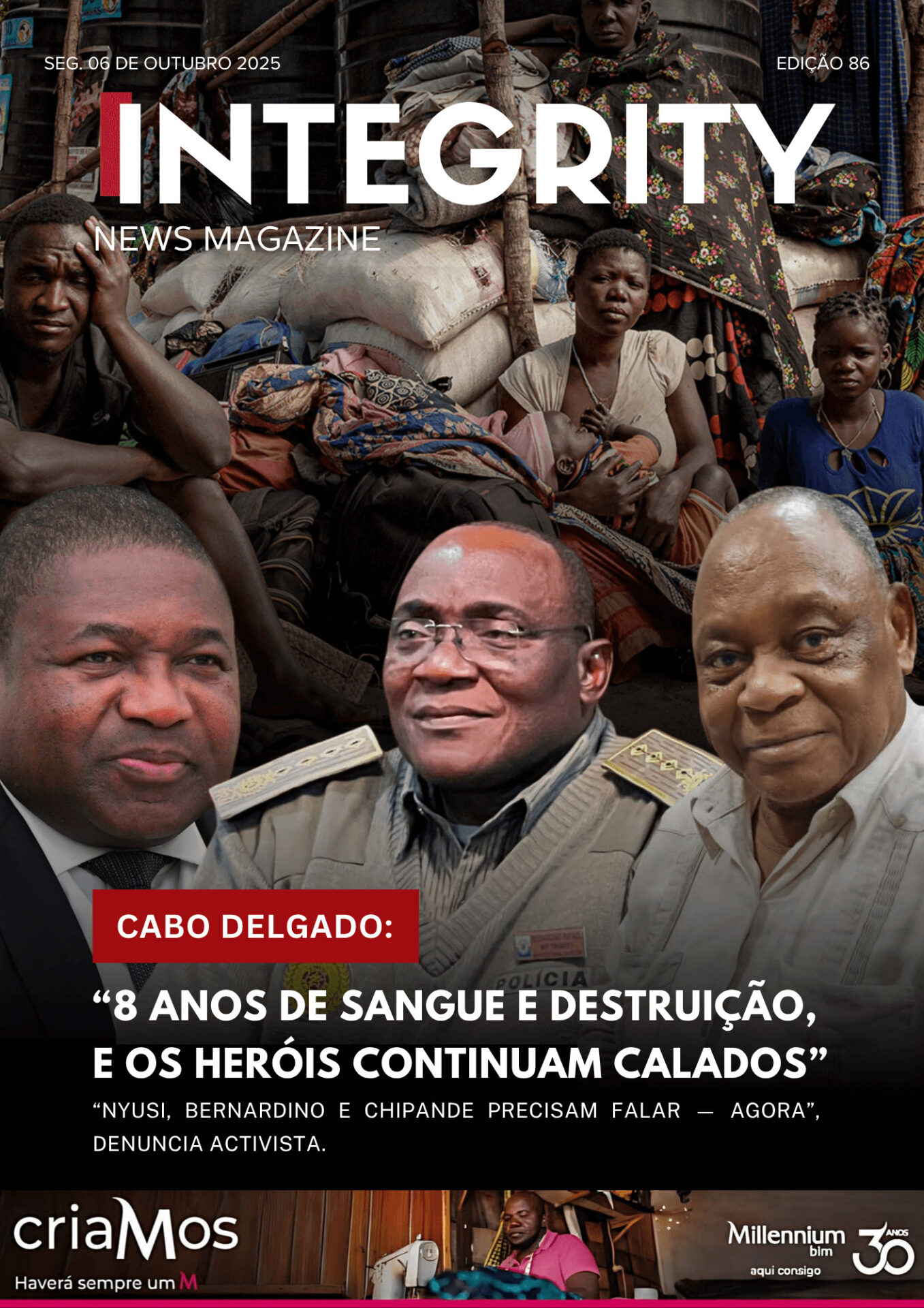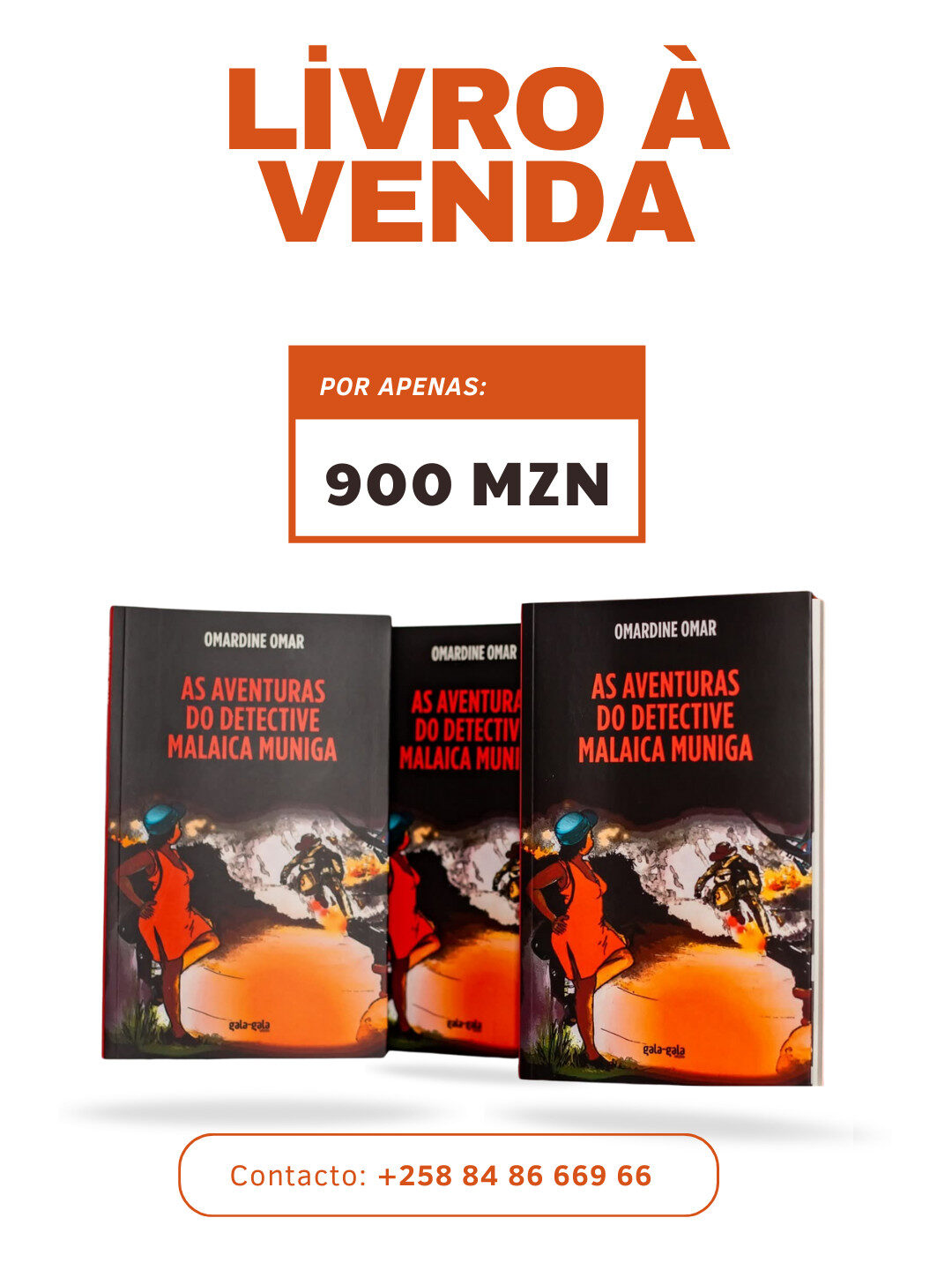José Fernandes Castigo[1]
No dia 25 de junho do ano corrente, o país completou 50 anos de independência nacional. É um marco importante para a história do povo moçambicano. Por isso, no âmbito desta efeméride, o Governo moçambicano, algumas instituições do ensino (públicas e privadas) e organizações da sociedade civil realizaram e continuam realizando inúmeros eventos com fins variados, quais sejam: homenagear os heróis da Luta de Libertação Nacional, desportistas, autores, artistas entre outros; discutir as principais demandas da sociedade, com enfoque na Administração Pública ou Governação, Educação, Saúde, Corrupção, Segurança e Terrorismo.
Dos eventos supracitados e que foram amplamente divulgados pelas mídias nacionais e internacionais, não constatamos nenhuma questão voltada à Língua, especificamente ao uso da Norma-Padrão do Português Europeu (pedimos perdão se estivermos errados ou equivocados). Essa constatação não significa que este tema seja melhor ou mais importante do que os outros. Até porque, não é nossa intenção agendar, valorar, hierarquizar temas relevantes que devem ser discutidos.
Na realidade, questionar a ausência desse tema, é um serviço à humanidade, na medida em que, reflectir sobre uma língua é ao mesmo tempo refletir sobre a identidade de um povo, sua cultura, o seu senso de pertencimento e sua visão do mundo. Também é necessário refletir sobre a Educação, já que o ensino-aprendizagem se materializa ou se dá por meio das letras ou língua.
Posto isso, neste texto, buscamos refletir em torno da manutenção da norma-padrão do português europeu em Moçambique. Uma vez que, alguns estudos apontam a existência de uma variedade de Português de Moçambique (PM), em decorrência das trocas e convívio com as línguas bantu (LB). Essas trocas causam influências ou interferências que se manifestam através de variedades regionais (provinciais) do português e características próprias, que se distanciam gradualmente do PE. A título de exemplo, são os estrangeirismos e empréstimos que variam entre províncias, conforme as LB locais e os aspectos históricos e socioculturais (Timbane, 2013).
Nesta linha de raciocínio, haja vista complexidade deste processo, encaramos esta janela comemorativa dos cinquenta anos de independência, como uma oportunidade relevante para colocar essa importante questão no centro do debate público, tendo em vista seu impacto direto e indireto sobre milhões de moçambicanos. Porém, faz-se necessário lembrar que a temática de padronização da variedade moçambicana do português nunca foi totalmente olvidada, ou relegada ao segundo plano. Segundo a Professora e pesquisadora moçambicana Hildizina Dias (2009), existem dois grupos opostos. O primeiro grupo defende a oficialização imediata das mudanças em curso e adoção de uma língua portuguesa moçambicana nos órgãos oficiais, na escola e nos meios de comunicação de massas. Por sua vez, o segundo grupo sustenta que ainda não há uma língua portuguesa moçambicana, apenas uma variedade local em formação, pois faltam dados para sua padronização.
Antes de nos centrarmos em aspectos linguísticos, convidamos você a ler um trecho de uma conversa hipotética entre dois colegas amigos de uma instituição pública na cidade de Maputo. Ndoi, uma mulher, do grupo etnolinguístico ndau, natural da cidade da Beira. Muchanga, um homem changana, natural de Gaza. Funcionários públicos com formação superior completa.
Muchanga: Olá! Como está?
Ndoi: Estou bem. E você, como estás Muchanga?
Muchanga: Estou bem. Soube que chegou tarde ao serviço. O que teria acontecido?
Ndoi: Você não sabe, havia greve de chapa e tive que apanhar My love. E como deves saber, por causa de segurança, My love não vuna.
Muchanga: Eh Wena1? Você sofreu muito. Porque não chamou Yango ou Txopela?
Ndoi: Não tinha dinheiro. Para piorar não pagaram Xitique e não podia fazer Txuna, porque estou devendo.
Muchanga: Está nice. Da próxima, levanta mais cedo e pode apanhar a mesma boleia que apanho, quando há greve de chapeiros. É mahala.
Ndoi: Muito obrigado! Seria uma grande txova. Não sei se precisarei. A minha transferência para cidade Wawa do país, está muito bem encaminhada e brevemente estarei com meus irmãos.
Muchanga: Vai voltar para sua cidade natal, Beira? Que bom. Conheço a cidade. Já passei inúmeras férias do final do ano, nessa cidade. Tenho boas lembranças, principalmente de um jeito local de falar. Yeah pah, ainda me lembro de algumas palavras: Princhire, matxutxe, wamama, mbama, txigamba, txakutxena, entre outras.
Como nos referimos anteriormente, o diálogo é entre dois servidores públicos, provenientes das províncias de Sofala e Gaza.
A conversa é feita em língua portuguesa, porém, com grande maioria de traços ou particularidades lexicais, morfológicas e sintáticas das LB, vinculando à variedade do PM. Esse processo só foi possível, porque os moçambicanos se apropriaram da língua portuguesa. Os linguistas chamam isso de nativização. É importante ressaltar que essa variedade do português moçambicano, possui no seu interior diferentes manifestações – as variedades regionais. Consequência do convívio do português com mais de quarenta e uma (41) LB faladas nas províncias. Por isso, quando percorremos o país, facilmente podemos perceber interferências fónico-fonológicas (sotaques) e lexicais das línguas bantu no português. Elas marcam e possibilitam distinguir falantes de português de diferentes regiões do país: de Pemba, de Lichinga, de Nampula, de Quelimane, de Chimoio, de Inhambane entre outros pontos do país. Neste sentido, é justo afirmar que estamos diante de uma variedade (língua) que se distingue claramente do Português Europeu. Porém, é importante sublinhar que nem todos os falantes de português em Moçambique adotaram e legitimam essas marcas das LB. Por exemplo, alguns falantes dessa variedade sofrem preconceito linguístico e estigmatização, nas escolas, no trabalho, nas redes sociais, nas famílias e entre outros locais.
Com relação ao ensino, Timbane (2013, na sua tese de doutorado, intitulada “A variação e a mudança da língua portuguesa em Moçambique”, afirmou que, no contexto escolar, a grande maioria de alunos(as) passa por situações vexatórias:
Infelizmente, ainda há preconceito linguístico em Moçambique no que diz respeito à variação/ mudança […] muitos professores ainda reprimem qualquer tipo de variação, acham que punindo os erros dos alunos através de reprovações resolvem-se os problemas de aprendizagem. Acredita-se que a norma europeia é a “mais certa” e é essa que é exigida aos alunos. Mas até os professores não falam (nem poderiam falar) como “portugueses nativos”. Timbane (2013, p. 108).
Diante deste quadro, pode-se depreender que o Estado moçambicano, através da escola exerce uma violência simbólica, já que impõe aos alunos uma variedade linguística descontextualizada com intuito (no nosso entendimento) de uniformizar linguística e culturalmente a sociedade moçambicana, em nome de um ideal linguístico homogeneizante lusitano, que possibilita a manutenção da tão almejada unidade nacional. Na nossa modéstia opinião, o alcance desse ideal, nos parece um grande desafio, talvez uma utopia, já que o perfil linguístico da nossa sociedade pode constituir empecilho.
Todavia, precisamos lembrar que não devemos esquecer o papel que o português europeu, desempenhou ao longo desses cinquenta anos. A sua adopção foi fundamental para a preservação da unidade nacional, num país multilíngue e multiétnico, onde mais de 90% da população não falava português, e, na comunicação e integração de Moçambique no contexto internacional.
A realidade atual mostra que é hora de refletir sobre a manutenção da norma-padrão do português europeu, pois tanto a língua quanto a sociedade são dinâmicas, sofrem interferências e influências que levam a variação e mudança ao longo do tempo. Por outras, a realidade sociolinguística de Moçambique não é mesma do período da independência (primeiros anos). Por exemplo, atualmente, podemos constatar nos textos orais (conversas, áudios e vídeos na internet (diversos aplicativos de conversas)) e escritos (textos literários, post nas redes sociais), que grande maioria de falantes de PM possui traços provenientes das LB. Constituídas por inúmeras variedades no seu interior, que permitem identificar marcas socioculturais e históricas desses falantes, corroborando com o pesquisador brasileiro Carlos Alberto Faraco (2019): o modo como se fala uma língua é, assim poderoso fator de identidade social, de senso de pertencimento a determinado grupo, de delimitação de fronteiras entre grupos sociais (Faraco, 2019, p. 39). Portanto, é fundamental entender a língua em sua diversidade social, cultural, histórica e económica.
Por isso, ao refletirmos sobre esta questão, precisamos levar em consideração a concepção de língua defendida por Faraco (2019, p. 35): Uma língua é um conjunto de variedades distribuídas no espaço geográfico e social e no eixo do tempo, conjunto que os falantes, por razões históricas, políticas e socioculturais, idealizam como uma realidade onde não há, efetivamente, unidade.
Chegando aqui, por meio de uma questão, lançamos um repto a toda sociedade moçambicana: a quem interessa a manutenção e imposição do ideal lusitano?
VOCABULÁRIO[2]
Eh wena (changana)- Você.
Mahala – Gratuíto.
My love (inglês: meu amor) – Camioneta de transporte de passageiros.
Matxutxe (ndau) – pessoa que não gosta de pagar bebida ou comida. Aproveita-se da boa vontade das outras pessoas bebendo e comendo de graça.
Mbama (ndau e cisena e outras LB) – bofetada.
Nice (inglês) – bom, bem.
Princhire (cindau) – uma planta comestível, usada para noite que antecede o Natal (24 de dezembro), dia do nascimento de Jesus Cristo. É usada para substituir carnes.
Txuna (gíria) – empréstimo eletrônico.
Txakutxena (cindau e cisena) – bebida destilada (Gin)
Wawa (gíria) – diz-se da qualidade do que é muito bom, excelente, extraordinário, hábil ou que se destaca em alguma coisa.
Wamama (cindau) – bem-feito. Expressão usada para zombar de uma outra pessoa.
REFERÊNCIAS
DIAS, Hildizina Norberto. A norma padrão e as mudanças linguísticas na língua portuguesa nos meios de comunicação de massas em Moçambique. In:_____. (org.). Português moçambicano: estudos e reflexões. Maputo: Imprensa Universitária, 2009.
FARACO, Carlos Alberto. História do português. Editores científicos Tormaso, Celso Ferrarezi Jr. São Paulo: Parábola, 2019, 192 p.
TIMBANE, Alexandre António. A variação e a mudança da língua portuguesa em Moçambique. 2013. Tese (Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras (Campus de Araraquara). Disponível em: https://repositorio.unesp.br/items/6a8877e5-f472-4b0b-8738-e77eb986b14b. Acesso em: 28 jun. 2023.
[1] Doutorado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, UPM (2025-). Doutorado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Campinas, São Paulo (2024-). Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, FE (2022). Possui graduação em Ensino de Português pela Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique, FLCS (2010). Professor de Língua Portuguesa na Escola Secundária de Ulónguè, Angónia, Tete. E-mail: [email protected].
[2] Caso exista algum erro, por favor, envie um e-mail com alternativa ou informação certa)