Para ele a arte da guerra é a mais eficiente das batalhas não é aquela que se trava em campo aberto, mas a que se ganha sem luta, pela estrangulação das forças vitais do inimigo. Ora, o que hoje se vive em Mocímboa da Praia é precisamente essa estratégia: um cerco, não apenas físico, mas psicológico e político, contra uma população inteira. Quem domina os deslocamentos da população, domina também os fluxos de informação, os recursos e a moral social. O exército que controla não apenas o inimigo, mas também o seu próprio povo, estabelece uma espécie de poder totalitário de trincheira.
Por John Kanumbo
No entanto, o que vemos em Mocímboa da Praia não é apenas estratégia militar. É a conversão da vida civil em refém. A população é obrigada a permanecer dentro de uma vila cercada pelo medo dos terroristas, exposta a ataques e massacres e pelo mandado tácito do Estado. O cidadão comum, que deveria ser protegido, torna-se refém duplo: da violência insurgente e da disciplina militar.
Perguntemo-nos: por que razão se proíbe a fuga em meio ao terror? Por que razão mulheres, crianças e idosos, diante da morte iminente, são coagidos a permanecer onde as balas silvam e as casas ardem? Ora, se a guerra é supostamente contra insurgentes, por que transformar os cidadãos em prisioneiros dentro do seu próprio território? A resposta é cruel, mas simples: porque o povo se tornou escudo humano da narrativa estatal.
No plano jurídico, o Estado invoca o “ordenamento de segurança” e a necessidade de “garantir controlo territorial”. Mas, no plano político, essa decisão revela outra coisa: o poder prefere administrar cadáveres do que assumir a falência da soberania. Isto quer dizer, uma dimensão política mais profunda: a concepção de que os corpos dos cidadãos pertencem ao Estado. A proibição de sair da vila é a manifestação clara de uma filosofia de soberania que não protege, mas captura. O povo, em vez de sujeito de direitos, torna-se objecto de gestão militar. Quando se impede a população de sair de Mocímboa, o que se garante não é segurança — é estatística.
Se a população foge, o Estado perde o argumento de “estabilidade territorial”. Se a população permanece, ainda que aterrorizada, pode-se proclamar em Maputo: “a vila continua sob controlo governamental.”
O povo, assim, não é cidadão: é dado político, prova material de que o território ainda respira sob o domínio oficial. É o uso da carne humana como legitimidade do Estado.
Carl Schmitt, o filósofo alemão do direito político, dizia que a essência da soberania está na decisão sobre o “estado de excepção”. É o soberano que decide quem vive, quem morre, quem circula, quem é detido. Ao proibir a fuga da população, o Estado moçambicano está a decretar, na prática, que a vida do seu povo é sacrificável em nome da preservação do território.
Aqui, vemos o mesmo mecanismo aplicado em outros tempos e lugares: Em Alepo e Idlib na Síria, onde populações inteiras foram impedidas de sair, servindo de escudo para legitimar a propaganda de Assad. No Ruanda de 1994, onde comunidades foram fechadas em igrejas e escolas, não para serem salvas, mas para serem massacradas sob o pretexto da ordem. No Congo, durante os massacres de Ituri e Kivu, aldeias foram “retidas” como zonas controladas, quando na verdade eram apenas campos de contenção para manter aparências diante da comunidade internacional.
Durante a Guerra da Argélia (1954–1962), o exército francês confinou aldeias inteiras em “zonas proibidas”, impedindo deslocamentos sob pretexto de evitar apoio logístico aos rebeldes. Resultado: fome, massacres e radicalização.
Serra Leoa (1991–2002), as aldeias foram forçadas a permanecer em “protected villages”, supostamente para proteger os civis dos rebeldes. Na prática, esses enclaves se tornaram prisões a céu aberto, onde mulheres eram violadas e crianças recrutadas como soldados.
Libéria (anos 90), Charles Taylor utilizou a mesma táctica. Populações cercadas eram moeda de troca para negociação com organismos internacionais. Civis foram transformados em reféns de guerra.
No Sudão, em Darfur, populações inteiras foram cercadas e impedidas de abandonar zonas de conflito, servindo como “escudo humano” contra milícias.
Uganda (regime de Museveni), populações do Norte foram obrigadas a viver em campos de deslocados para “afastar civis dos rebeldes”. O resultado foi a destruição da vida comunitária e a perpetuação da guerra civil.
Na Palestina ocupada, o bloqueio de Gaza mostra a mesma lógica: não deixar a população sair, mantendo-a vulnerável como forma de controle político.
Moçambique, ao proibir a fuga de Mocímboa, não inova: apenas repete a história amarga de governos que preferem o povo morto à confissão da derrota. Pois a estratégia simples: aprisionar os vivos para governar pelo medo.
O mais perverso é que, ao mesmo tempo em que o Estado moçambicano não consegue garantir segurança contra os insurgentes, consegue impor disciplina à população. É uma soberania frágil diante do inimigo armado, mas feroz contra os desarmados.
O paradoxo é cruel: o Estado não tem força suficiente para derrotar os insurgentes, mas exerce disciplina contra os desarmados. Contra insurgentes: recua, perde terreno, entrega vilas. Contra civis: impõe proibições, ameaça sanções, controla deslocamentos.
Esta contradição revela o que chamo de soberania mutilada: o Estado perde a autoridade legítima sobre o território, mas conserva o poder despótico sobre a vida do cidadão comum. É a soberania mutilada: fraca diante da guerra real, forte apenas contra o povo indefeso.
Porque mantêm o povo preso? A resposta política é dura: porque o povo é visto como suspeito. Cada camponês é visto como potencial colaborador da insurgência. Cada mulher que foge pode ser levada como portadora de informação. Cada jovem que tenta escapar é encarado como possível desertor.
A razão política dessa medida é simples: o Estado não confia no seu povo. Cada aldeão é suspeito de colaborar com insurgentes. Cada mulher que foge pode estar a levar informação. Cada jovem é visto como potencial guerrilheiro.
Assim, prender a população dentro da vila serve a três objectivos: Controle da narrativa internacional, isto é, esconder a falência do Estado – se as pessoas fogem em massa, o fracasso torna-se visível ao mundo e assim evitar imagens de deslocados massivos que manchem a reputação do governo. Economia da guerra – manter mão de obra barata, camponeses e garimpeiros presos, servindo aos interesses locais e estrangeiros. Medo como arma de Estado – mostrar que, mesmo sem derrotar insurgentes, o Estado ainda pode controlar corpos E assim, quem controla os corpos, controla a nação.
Do ponto de vista filosófico, o cerco à população significa algo mais profundo: o Estado deixa de ser o garantidor da vida e passa a ser o administrador da morte. Biopolítica foucaultiana transformada em necropolítica, como diria Achille Mbembe. Em tempos de terror, proibir a saída é instaurar a lógica do rebanho aprisionado. A mensagem é clara:
O indivíduo não é sujeito de direitos, mas peça de um tabuleiro. A comunidade não é fim em si mesma, mas instrumento para o jogo diplomático. A vida não é valor supremo, mas custo operacional a ser contabilizado. A filosofia do cerco mostra que a soberania em Moçambique já não é sobre governar para o povo, mas governar sobre o corpo do povo. Cada homem, mulher e criança retida em Mocímboa da Praia é prova de que o Estado existe apenas porque ainda há carne viva para exibir como bandeira.
E assim chegamos ao paradoxo: a população só é “livre” para morrer. Não é livre para fugir, nem para decidir seu destino. É livre apenas para servir como testemunho mudo da fragilidade de um Estado que tem mais medo de perder narrativas do que de perder vidas.
Michel Foucault já dizia que o poder moderno não se exerce apenas pela espada, mas pela administração da vida. A proibição de sair de Mocímboa é um exemplo disso: um poder que se apresenta como “protector”, mas que, na prática, transforma aldeões em prisioneiros do seu próprio país.
Não é protecção. É gestão de corpos. É necropolítica — conceito de Achille Mbembe — em que o Estado decide quais vidas merecem ser expostas ao risco da morte e quais podem ser preservadas.
O que isto significa politicamente? Politicamente, isto significa: O Estado perdeu a guerra de legitimidade: em vez de proteger, pune. Os cidadãos perderam o direito de fuga, um direito humano básico em situações de guerra. O governo teme a própria população, tratando-a como inimigo interno. E, sobretudo, significa que Moçambique entrou no clube das nações que governam pelo medo, repetindo erros históricos de impérios coloniais e regimes autoritários.
A História sempre foi um espelho, por que fazem isso? Fazem isso porque é mais fácil controlar corpos do que reconstruir consciências. Fazem isso porque a fuga em massa revelaria ao mundo o fracasso da segurança e da soberania. Fazem isso porque o silêncio e a imobilidade do povo são a última máscara que cobre a nudez do poder.
No período colonial português, aldeias inteiras em Cabo Delgado foram forçadas a viver em “aldeamentos” controlados pela administração. O objectivo era impedir contacto com guerrilheiros da FRELIMO. O que vemos hoje é a repetição dessa lógica, agora aplicada por um Estado dito independente. A história retorna como tragédia: o Estado independente copia a lógica do Estado colonial — e chama isso de soberania.
Mas a História é impiedosa. Sempre que o Estado transformou o povo em escudo, a verdade veio à tona: Assim aconteceu no Vietnam, quando aldeias eram proibidas de deslocar-se, tornando-se palco de massacres que selaram a derrota americana. Assim aconteceu em Angola, quando civis foram usados como prova de presença territorial nos corredores da guerra civil. Assim acontece agora em Cabo Delgado, onde a filosofia de retenção não é protecção, mas cálculo político.
Mocímboa da Praia não é apenas uma vila sitiada. É metáfora do país inteiro: um povo retido, aprisionado entre o terror insurgente e a arrogância de um Estado que não assume sua falência. Declarar a guerra seria admitir o colapso. Deixar o povo fugir seria admitir impotência. Assim, opta-se pelo meio-termo mais cruel: manter as pessoas presas, nem vivas nem mortas, mas úteis como estatística e escudo.
Proibir um povo de fugir do terror é o mesmo que dizer-lhe: “a tua vida não te pertence”. É o ponto mais baixo da relação entre Estado e cidadão. A população de Mocímboa não precisa de proibições. Precisa de liberdade, dignidade e segurança. Se o Estado não consegue garantir isso, então já não é Estado soberano, mas apenas guardião de contratos estrangeiros e de agendas diplomáticas.
O povo moçambicano precisa compreender: a liberdade não se mendiga a quem faz da vida uma moeda. O cerco de Mocímboa é mais que um ato militar — é um crime político contra a dignidade nacional. E como escreveu Sun Tzu: “cercar completamente o inimigo é forçar o desespero; mas deixar-lhe uma saída é dar-lhe vida.” Aqui, o Estado cercou o próprio povo — e recusou-lhe até a saída.
O povo precisa, mais do que nunca, de recuperar a filosofia da resistência: o direito de dizer “não” à morte imposta, de afirmar que a vida não é moeda de troca nos jogos políticos de Maputo, Kigali, Paris ou Bruxelas.
Um Estado que proíbe o povo de fugir do terror já não é Estado — é cárcere político. Confinar o povo é confessar o fracasso. E nenhum regime que transforma cidadãos em reféns do seu próprio país pode se chamar democrático.
E aqui deixo a minha palavra final: Se Cabo Delgado é governado pela prisão do seu próprio povo, então a independência ainda não chegou. A liberdade é a primeira vítima desta guerra não declarada.
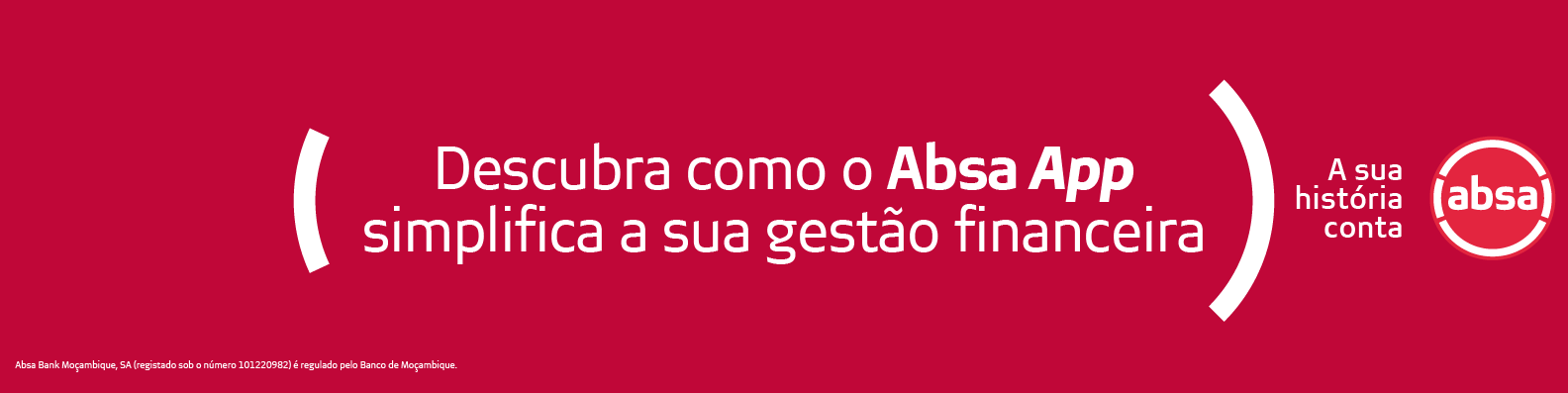




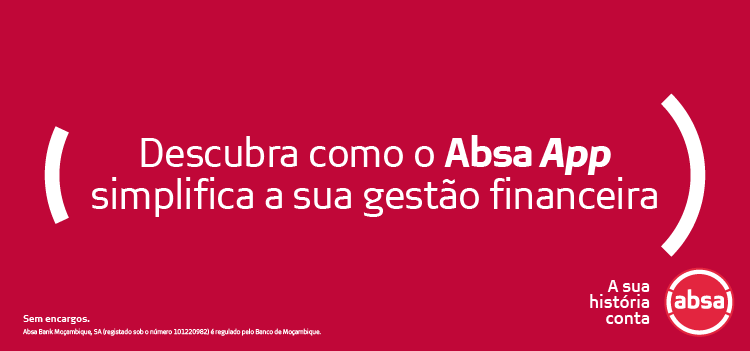








Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing