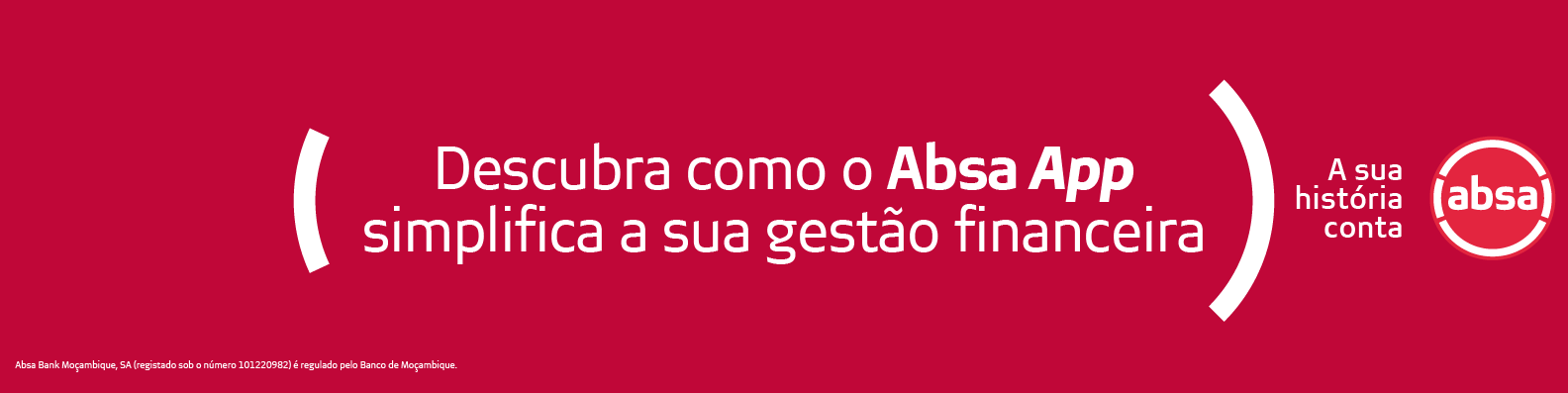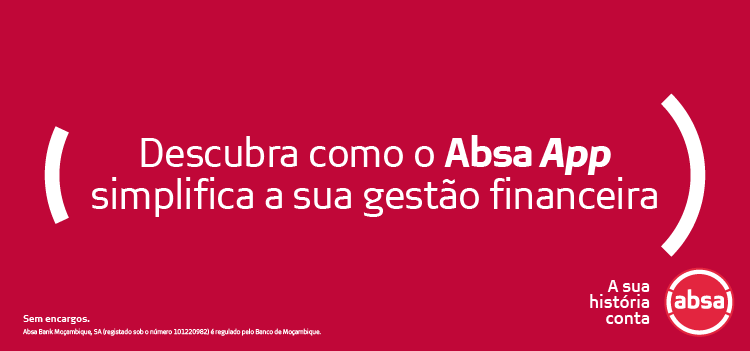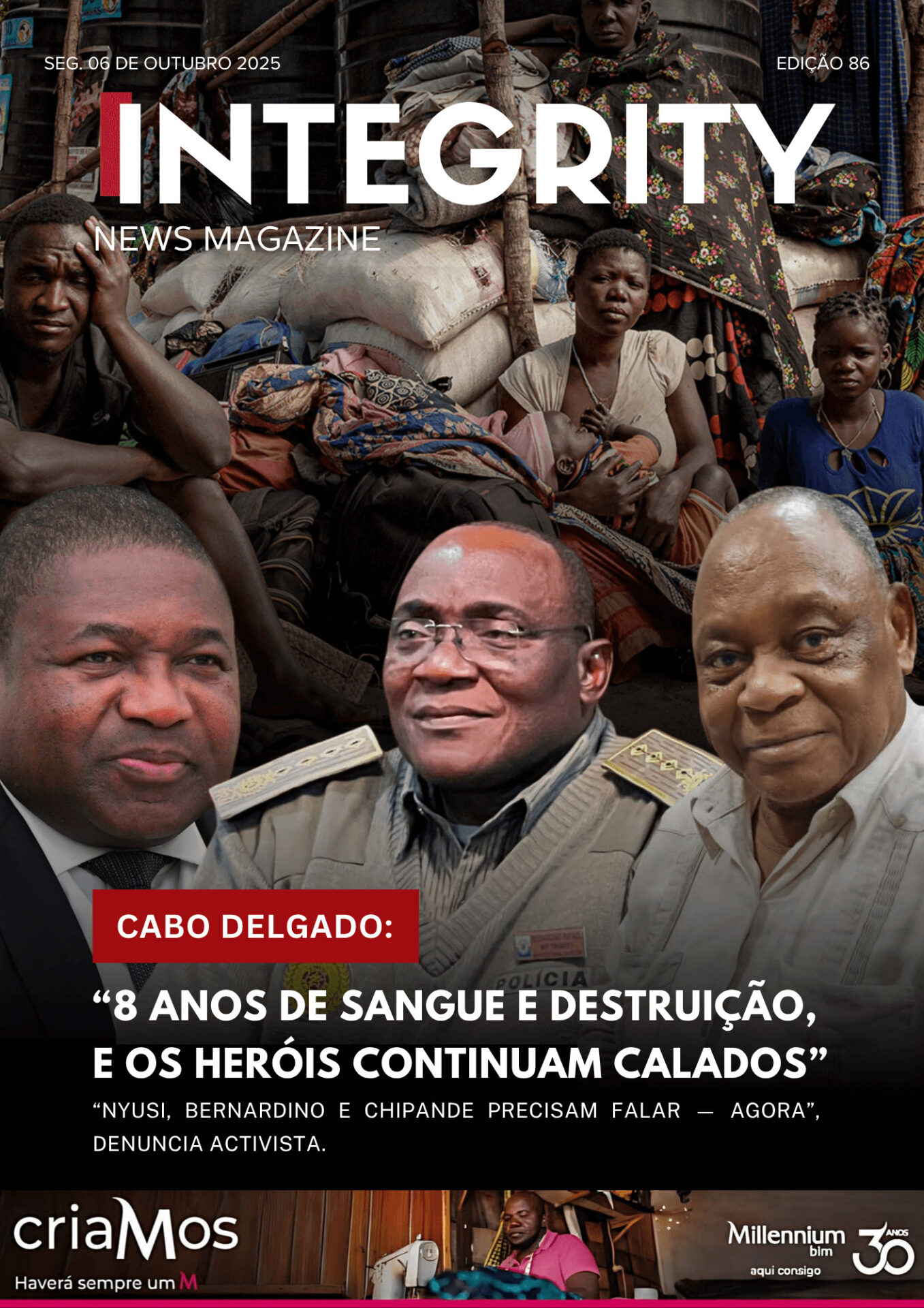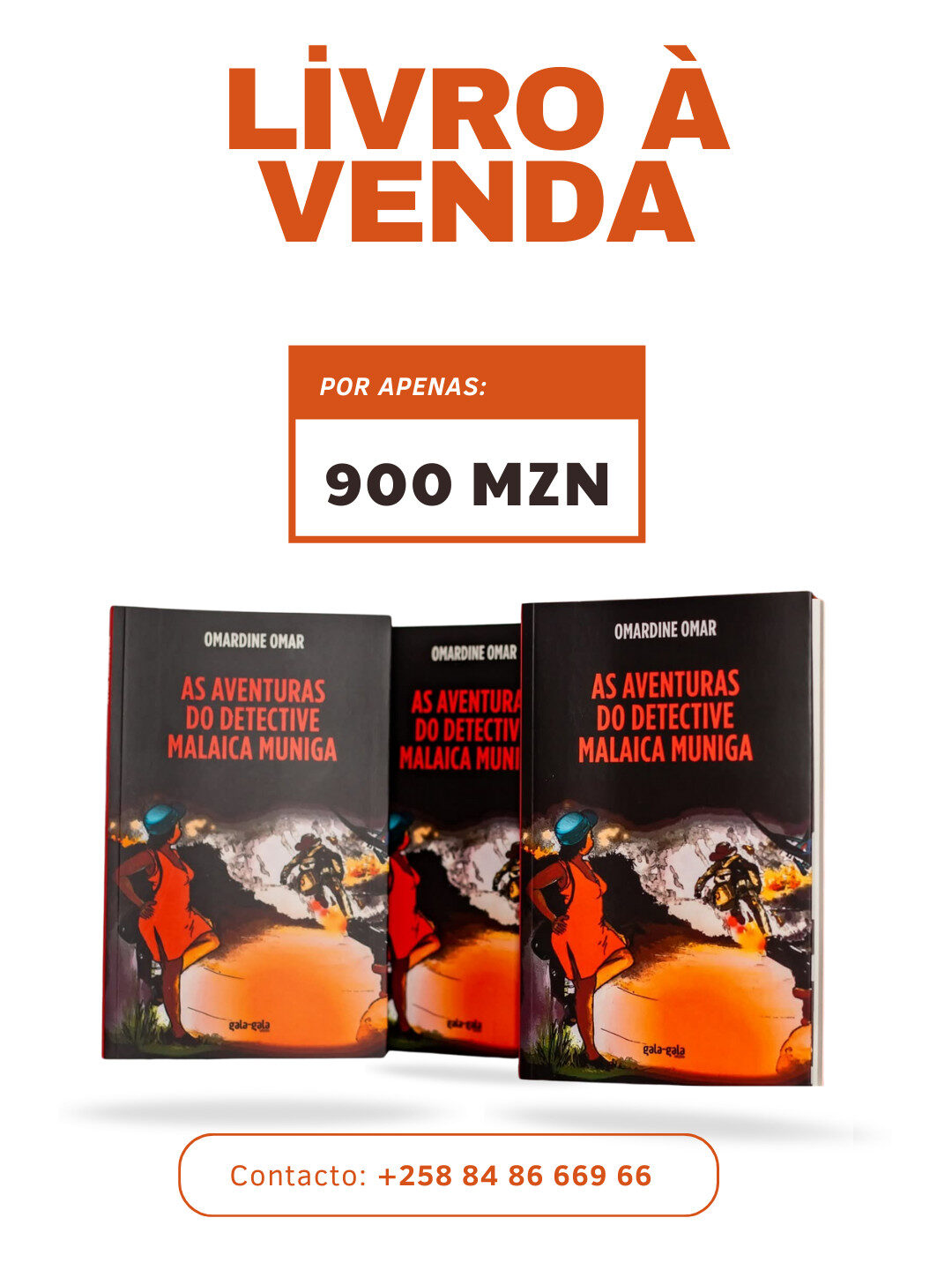“Os homens da PIDE utilizavam também um sistema para assassinar as pessoas que consistia em meter um preso numa cela de segredo sem que lhe fosse dada água ou comida durante uma semana ou mais, assim o preso começava a entrar em angústia e acabava por morrer em consequência da fraqueza e da fome.”
Este excerto consta do depoimento de Cândido Raimundo Mateus à comissão que investigou os crimes da PIDE/DGS em Moçambique entre 1964 e 1974 e enunciava um dos actos quotidianos da polícia política na ala prisional sob sua alçada. Mateus fora detido na região de Nampula em 1964 por suspeitas de ligação à Frelimo; no ano seguinte, entrou na Machava, situada nos arredores de Lourenço Marques (Maputo); e ali ficou nos oito anos seguintes, sem culpa formada, classificado como preso político e vítima de constantes atropelos aos direitos humanos.
Aquilo que este ex-recluso contou era apenas uma parcela da violência discricionária praticada nos pavilhões da Machava e nos gabinetes da delegação da PIDE (a “Vila Algarve”, uma moradia construída nos anos 1930, com painéis azulejares na fachada, na então Avenida Afonso de Albuquerque) e de instalações policiais na Avenida Pinheiro Chagas.
O “sistema” era também usado como antecâmara dos interrogatórios: depois de darem entrada na cadeia, ficavam dois ou três dias numa cela sobrelotada, onde dormiam em pé ou deitados uns sobre os outros; depois, eram trasladados para uma cela disciplinar (o “segredo”), sem luz, sem comida e sem água, durante cinco ou seis dias; quando estavam já exaustos, frágeis e esfomeados, eram interrogados e sujeitos a mais torturas. Muitos sucumbiam durante as inquirições; outros ainda chegavam a ser transportados para o hospital central (Miguel Bombarda) e ali morriam. Enfermeiros da confiança da polícia e o médico que costumava visitar uma vez por mês o presídio, Marques Paixão, certificavam os óbitos, repetindo as causas de morte: tifo, cólera, broncopneumonias ou insuficiências cardíacas.
Os instrutores militares começaram a ouvir relatos sobre o que acontecia na prisão (denominada pela PIDE como “Centro de Recuperação”) e na kula (sala de torturas) da “Vila Algarve” logo em Maio de 1974, durante a primeira recolha das denúncias de vítimas e familiares de mortos e desaparecidos. Nessa altura, prosseguia em todo o país a libertação gradual dos presos políticos, que se estendeu até ao fim do Verão.
As queixas que descreviam torturas e mortes chegaram cedo à comissão porque a cadeia recebeu reclusos provenientes de todo o antigo território ultramarino — os que eram embarcados em Nacala, por exemplo, procedentes das prisões de Nampula, Quelimane, Porto Amélia (Pemba) ou Vila Cabral (Lichinga), chegavam num estado deplorável, alguns quase mortos: no embarque, sob chicotadas, eram atirados para os porões dos barcos de uma altura de quase dez metros, fracturavam membros e sofriam traumatismos cranianos; viajavam sem luz e davam-lhes pequenas latas para os dejectos; a comida era insuficiente e lançada do convés pelos guardas prisionais. Os que morriam eram atirados ao mar dentro de sacos.
De acordo com os números oficiais da PIDE e do Governo em Lisboa, mesmo replicados várias vezes pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICR), a cadeia da Machava teve durante os anos da guerra entre mil e dois mil presos, mas na verdade chegou a ter cerca de quatro mil. Na Páscoa de 1966, existiam celas que albergavam 180 pessoas e um único cobertor, obrigando os homens a revezarem-se entre estar sentados ou em pé, recordou Luís Simba; em fevereiro de 1972, Alberto João estava numa cela com mais 150 pessoas e mal se conseguiam mexer; Micas Joaquim Boane ficou no número 1 do pavilhão 5 com mais 104 homens e uma sanita; durante dois meses de 1971, Augusto Uendala Maunza foi um dos 65 prisioneiros confinados numa cela com 15 metros quadrados.
A cadeia foi aumentada a partir de 1970, mas a sobrelotação manteve-se, até porque constava da metodologia repressiva da PIDE. Foram construídos mais três pavilhões (ascendendo a 12), uma igreja, um refeitório, um campo de futebol e novos gabinetes de investigação: tudo edificado por mão-de-obra prisional, não remunerada, instruída para dizer aos visitantes que recebia um salário mensal. Alguns, como André Jeremias Cossa, foram “pagos” com “cinco cigarros”.
Esfregado com vassoura e creolina
Em Abril de 1974, quando foram paralisados todos os serviços da PIDE/DGS, a delegação-sede em Maputo ficou sob a superintendência do coronel António Maria Rebelo, e, no mês seguinte, os militares responsáveis pela investigação criminal aos actos da corporação instalaram-se na “Vila Algarve”.
Nesta altura, o ambiente na capital não contrastava com aquilo que se verificava noutros grandes centros urbanos, como Nampula ou a Beira: sucediam-se as greves, empresas fechavam por falta de trabalhadores, outras despediam; os bancos assistiam a uma corrida à moeda “metropolitana” e estrangeira; prosseguiam os “incidentes” entre a PSP e a população africana que habitava os subúrbios; e entre os colonos mantinha-se um “clima de expectativa e tensão”, segundo os relatórios militares confidenciais remetidos para Lisboa.
Num desses dias, a comissão ouviu Uachianzissa Massingue Pedro, de 37 anos, residente na Matola e maquinista de profissão, detido em Julho de 1970 por suspeitas de esconder armas e dinheiro destinados à Frelimo. Foi agredido e torturado em três lugares: “Vila Algarve”; num gabinete do edifício na avenida Pinheiro Chagas; e na Machava.
Durante um período que não conseguia precisar, esteve no “segredo”, foi privado de alimentos e água e espancado com cavalo-marinho e palmatória na delegação e no pátio da prisão, onde se lembra de ver e ouvir um cão que latia tão alto que abafava os seus gritos. Crê que desmaiou várias vezes: quando lhe arrancaram dois dentes com a coronha de uma pistola; quando foi submetido a choques eléctricos; quando foi sovado pelos agentes António Manuel Tapadinha, Aires Moreira, Ilídio dos Santos e Carlos da Silva no pátio onde existia “uma laranjeira”, memorizou. (Jornal Público)