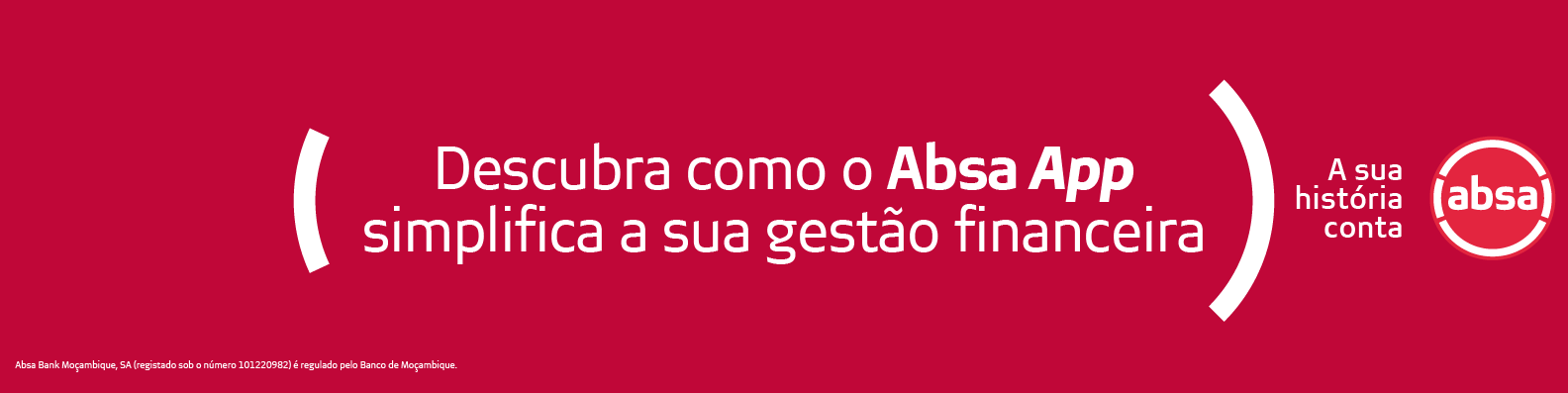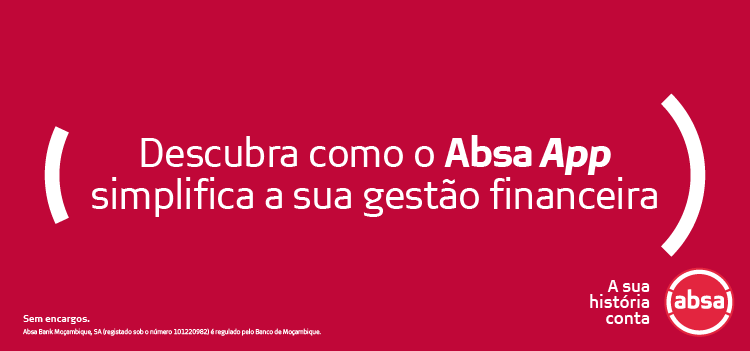Desde as batalhas pela independência até as incursões contemporâneas, esta província testemunha vidas ceifadas e comunidades deslocadas. Como filho desta terra, sinto-me moral e filosoficamente compelido a denunciar o projecto oculto que redesenha o destino da província sob a máscara do “combate ao terrorismo”.
Aqui estamos. Enquanto nos informam que “a situação está controlada”, desenrola-se um plano silencioso e sinistro: a remodelação territorial e populacional, conduzida por elites locais alinhadas a interesses multinacionais. As populações deslocadas, vítimas directas da guerra e da ganância, são iludidas com falsas promessas de retorno às suas terras ancestrais — terras que, na realidade, já foram entregues a projectos privados estrangeiros. Ao mesmo tempo, o retorno torna-se impossível: as comunidades que tentam regressar são atacadas, reforçando o deslocamento forçado e o esvaziamento demográfico de áreas estratégicas.
Por John Kanumbo
A estratégia política, liderada pelo antigo mentor dessa ganância guerra e sua entourage oriunda de Mueda, é explícita: impedir o retorno às terras tradicionais e transformar os centros de acolhimento em aldeias definitivas. Sob a coordenação do governo, ONGs internacionais exigem a construção de habitações permanentes nesses centros, consolidando a reconfiguração territorial. Do ponto de vista jurídico, isso representa a negação do direito consuetudinário garantido pela Constituição moçambicana, que assegura a posse por uso e ocupação tradicional.
Nesse contexto, a “legalidade” torna-se instrumento da usurpação: o deslocamento e a instalação definitiva das comunidades em novos espaços permitem declarar suas terras “abandonadas” ou “de interesse público”, facilitando a concessão a investidores estrangeiros.
Surge, então, a pergunta central: quem são os beneficiários desse projecto? Notamos que distritos ricos em gás, petróleo, grafite e terras férteis — Palma, Mocímboa da Praia, Nangade, Muidumbe, Macomia, Meluco, Quissanga, Ancuabe e Ibo — são palco dos ataques, enquanto Mueda, capital do poder político e militar da elite local, permanece intacta. Nem um único disparo ou ataque ocorre em Mueda, terra natal do próprio Nyusi e de outros membros do círculo do poder. Esta excepção não é fruto do acaso, mas do poder político ali radicado.
Se fosse uma guerra religiosa motivada pelo extremismo islâmico, como é frequentemente alegado, por que os Makonde (cristãos e do sistema) de Mueda não são alvo, enquanto os mwani (muçulmanos pouco esquerdistas) de Mocímboa da Praia, Ibo, Pangane, Quiterajo, Angaa, e macuas de Macomia, Meluco e Quissanga, Ancuabe, são exterminados ou expulsos? Por que a violência escolhe nomes, origens e territórios? Por que a exploração de recursos só avança onde as populações foram expulsas pela guerra? Mueda, berço de autoridades e empresários influentes, nunca sofreu incursões insurgentes. Mesmo na ofensiva contra o Parque Nacional de Niassa, permaneceu intacta. Bases militares reforçadas, ONGs ali instaladas e projectos de infraestrutura consolidam seu novo status de distrito privilegiado.
As infraestruturas, porto, aeródromo, de Mocímboa da Praia foi deliberadamente destruída e permanece paralisada. Projectos essenciais, como o hospital regional de Macomia, foram suspensos. Palma, com seu jazigo de gás, tornou-se epicentro das batalhas. Nas Quirimbas os turistas pouco se regalam. Enquanto isso, Mueda recebe investimentos em infraestrutura aeródromo, reforço militar e instalação de ONGs.
Esse contraste não é coincidência. Trata-se de um projecto estratégico: esvaziar os territórios ricos e deslocar suas populações para centros de reassentamento que, na prática, se tornam aldeias permanentes. Terras ancestrais são declaradas “livres” para concessões a multinacionais sob protecção militar estrangeira, enquanto o comando, a logística e a administração centralizam-se em Mueda, palco da reprodução do poder local.
A extensão desse projecto implica uma limpeza populacional moderna, econômica e juridicamente legitimada. Relatos antigos indicam que empresas de exploração florestal, turismo e mineração já mapeavam áreas nos distritos atacados, preparando o terreno para o momento em que essas terras fossem consideradas “disponíveis”. E parece nos que esse momento chegou.
O contrato social, conforme Jean-Jacques Rousseau, deveria proteger a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Em Cabo Delgado, porém, o Estado tornou-se predador, violando a Constituição da República, que garante o direito consuetudinário à terra consagrado a luz do (artigo 109). Ao forçar o reassentamento e o abandono dos territórios históricos, o Estado facilita a apropriação das terras pelo capital estrangeiro, transformando os deslocados em refugiados internos permanentes. No entanto, o reassentamento coercitivo constitui violação desse contrato e rasga disposições constitucionais.
Frantz Fanon, em sua análise das elites pós-coloniais africanas, alertava que estas, em vez de libertarem o povo, reeditariam a pilhagem colonial por meio da burocracia e do poder militarizado. Esse alerta se materializa em Cabo Delgado: o Estado negocia terras ancestrais disfarçando-as em programas humanitários, enquanto a guerra serve de pretexto para a reconfiguração territorial e o controle econômico.
Sem autorização da Assembleia da República, o governo permitiu a entrada de tropas estrangeiras, pressionado por potências como França, EUA e União Europeia, além de empresas como a TotalEnergies. Achille Mbembe fala da “necropolítica” — o poder de decidir quem deve viver e quem deve morrer. Em Cabo Delgado, quem decide é a elite de Mueda; quem morre são as populações marginalizadas de Palma, Mocímboa, Macomia e demais distritos. Isto é, o poder de decidir quem vive e quem morre manifesta-se em Cabo Delgado através da lógica de expulsão territorial. A concentração de logística, segurança e administração em Mueda e o abandono deliberado de outros distritos revela uma necropolítica moderna.
Não se trata de uma guerra religiosa, mas de um conflito econômico, étnico e político que usa o discurso islâmico como cortina de fumaça. A “paz estranha” em Mueda e a devastação nos demais distritos revelam a verdade por trás da narrativa oficial. As ONGs, ao distribuírem ajuda humanitária, tornam-se cúmplices deste projeto de expulsão territorial, cadastram deslocados para assentamentos permanentes e, assim, participam da eliminação do direito constitucional ao retorno e à posse da terra.
O que significa tudo isso para Moçambique? A perda de soberania territorial em Cabo Delgado; a entrega das riquezas naturais aos estrangeiros; a traição das elites locais que vendem a terra e o sangue do povo; a construção de um colonialismo interno sob a fachada de guerra e desenvolvimento.
Cabo Delgado enfrenta um neocolonialismo interno, disfarçado de combate ao terrorismo. É imperativo categórico kantiano que vozes críticas — constitucionalistas, sociedade civil e imprensa — denunciando esta remodelação territorial. Exigir o respeito aos direitos constitucionais, a restituição das terras ancestrais, a transparência e a responsabilização das elites e organismos envolvidos. Porque, como adverte Severino Nguenha, “onde há silêncio sobre a injustiça, a injustiça se naturaliza”.
Perder Cabo Delgado não é apenas perder território — é perder história, memória e soberania africana. E, como filho desta terra, faço este apelo: até quando aceitaremos a negação dos direitos, a manipulação jurídica e o silêncio cúmplice da sociedade? A luta por Cabo Delgado é a luta pela dignidade e pela justiça que Moçambique merece.